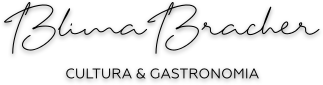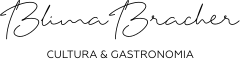No dia em que Ouro Preto completa 309 anos, convidamos para assistirem ao filme Ouro Preto – Olhar Poético com texto de Carlos Bracher e direção de Blima Bracher
Por Carlos Bracher
Ouro Preto, a Opulência Barroca
Ouro Preto é fruto do ouro e da fé, dueto sobre o qual edificou-se brilhante civilização.
No século XVIII este vale sulcado entre dois maciços rochosos viu nascer, em Vila Rica não apenas uma das mais populosas cidades de todo Ocidente, mas o prodígio da Civilização Mineira.
As construções vão brotando sem cessar, inseridas na dinâmica da paisagem. As igrejas são semeadas no manto verde mineral, como brancas bordaduras reluzentes. Os morros vestem-se de vegetação, deixando-se ilesa, contudo, a ponta do Itacolomi, ponteaguda numa só pedra recurvada.
Com a fé fecha-se o grande ciclo, mobilizando os fiéis, que se organizam em Irmandades e Ordens religiosas. Pululam templos e mais templos. numa féerie indomável à semelhança das catedrais góticas na Idade Média, quando surgiam vertiginosas
A fé alucina o homem, transbordando-o a estados delirantes. Aleijadinho afigura-se como o protótipo máximo da conexão com a espiritualidade. Nele, tudo é arte, tudo fé.
Donde vinha a força deste homem? Do mutilado com seus ferrões presos às mãos paralíticas, ferros invioláveis da dor, da excrescência máxima da feiúra do corpo a transitar a intangível Beleza revertida, de alguém a dialogar com o divino da encarnação, transfigurando pedra em cantaria, suplício em poesia. Aleijadinho detinha a real senha da pulsação, os vórtices fecundos, a entrega devocional dos desígnios definitivos do que seja, em verdade, arte.
O chamado “Barroco Mineiro” viu brotar nestas terras grandes compositores: Lobo de Mesquita, Manuel Dias de Oliveira Marcos Coelho Neto, João de Deus de Castro Lobo e Francisco Gomes da Rocha sendo eles,em sua totalidade, pardos ou negros, que Curt Lange chamou de “milagre musical do Barroco mulato”.
(((Sobe som de música barroca)))
Palavra e verbo verteram-se poderosos no contexto da criação da época. São inúmeros os autores, que fundam em Vila Rica a chamada Arcádia Mineira.
Tomás Antônio Gonzaga canta seu amor à Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Nasce-lhes um lindo romance e ele dedica-lhe livro em poemas, “Marília de Dirceu”, publicado em Lisboa em 1792.
((( Imagens do drone)))
| Meu sonoro Passarinho, Se sabes do meu tormento, E buscas dar-me, cantando, Um doce contentamento, Ah! não cantes, mais não cantes, Se me queres ser propício; Eu te dou em que me faças Muito maior benefício. Ergue o corpo, os ares rompe, Procura o Porto da Estrela, Sobe à serra, e se cansares, Descansa num tronco dela, Toma de Minas a estrada, Na Igreja nova, que fica Ao direito lado, e segue Sempre firme a Vila Rica. Entra nesta grande terra, Passa uma formosa ponte, Passa a segunda, a terceira Tem um palácio defronte. Ele tem ao pé da porta Uma rasgada janela, É da sala, aonde assiste A minha Marília bela. O seu semblante é redondo, Sobrancelhas arqueadas, Negros e finos cabelos, Carnes de neve formadas. Chega então ao seu ouvido, Dize, que sou quem te mando, Que vivo nesta masmorra, Mas sem alívio penando. |
Os restos de Marília e de outros treze Inconfidentes, trazidos da África em 1936, repousam no Panteão dos Inconfidentes, no Museu da Inconfidência.
A Inconfidência Mineira reuniu um grupo dos homens mais ilustres da época. se juntam. Poetas e escritores, padres e ouvidores, funcionários das tropas e da administração fazem um movimento de oposição a Portugal.
Começam as reuniões, as falas e trocas. “Atrás de portas fechadas / à luz de velas acesas, / entre sigilo e espionagem, / acontece a Inconfidência…”, recria Cecília Meireles o clima de dúvidas e incertezas, no memorável “Romanceiro da Inconfidência[2]”.
Só que não contavam que entre eles havia um traidor, o português Joaquim Silvério dos Reis, que os delata ao Governador Visconde de Barbacena. Sabendo do “plano”, o Governador, suspende a “derrama”[3], desarticulando o curso da ação.
Naquele trágico instante, em maio de 1789, que teria sido exatamente o da glória, todos são presos, inclusive Tiradentes, no Rio de Janeiro, tendo apenas o Alferes recebido a sentença máxima: morte por enforcamento[4].
“Se dez vidas tivesse, dez vidas eu daria…” —, responde convicto um Tiradentes inabalável, aos seus interrogadores, nos Autos de Devassa
Finda-se, com a Inconfidência, o Ciclo da Civilização Mineira. Esgotadas, as minas não mais exalam. Sem nenhum fulgor, a cidade vai passar por um período de quase duzentos anos de adormecida. Depois da opulência, a decadência. Em 1897, a capital transfere-se para Belo Horizonte, projetada e construída para ser a cidade-símbolo da República Brasileira.
O RENASCIMENTO
Novamente a cidade é salva pela questão artística, agora pelos “Modernistas de 22”, na célebre visita a Minas na Semana Santa de 1924. Mário e Oswald de Andrade, Tarsila e o poeta Blaise Cendrars (que pretendia escrever um livro sobre o Aleijadinho), perceberam o valor do relicário aqui encontrado.
Os Modernistas representavam a vanguarda da época. Suas vozes eram ouvidas e a viagem rendeu trepidosos frutos. Poucos anos após, Ouro Preto torna-se a primeira cidade tombada no país em 1933, e considerada Patrimônio Histórico Nacional.
O ouro fundiu-se em arte, a fé fendeu-se em parte. Foram-se glórias idas, mas outras se levantam: Castro Alves e Bilac, Oswald e Mário, Cecília e Bandeira, Ávila e Drummond, em palavras; Tarsila e Volpi, Djanira e Portinari, Inimá e Marcier, Scliar e Marquetti[5], em cores; Joaquim Pedro de Andrade no cinema; tantas artes, tantas, corais, músicas, teatros, insanas pirotecnias artísticas.
Considerado o maior conjunto barroco do mundo, este estilo consagrou-a ao estágio mais alto possível: a Patrimônio da Humanidade. O povo edificou Ouro Preto e o Brasil aqui está, livre na política e no pensamento. Os Inconfidentes nos libertaram, e os negros nos uniram como raça ramificada da igualdade. Eram negros os artistas, nesta mesclagem que não nos acovarda, mas enobrece. Aleijadinho torna-se o gênio não só da arte, mas de toda brasilidade humana, humana universalidade do comportamento que se atira e se instaura neste pedaço da América. Somos gente, simplesmente. Somos homens, sem raça definível, mas no transe da mais ampla inclusão de todas elas, sem religiões restritivas, sem ideologias punitivas.
clarins resplandecem, os céus alumiam-se de fortes cores, anunciando a prodigiosa aurora — os Festivais de Inverno —, rasgando o claro renascimento da cidade, pela arte. Os Festivais vieram descobri-la pronta e dadivosa em sua natureza ideal, a cumprir definitivamente seu destino histórico. Organizados pela Universidade Federal de Minas Gerais, eles foram realizados por quase trinta anos, a partir de 1967, no conceito de interação de todas ramagens artísticas, nos moldes dos Festivais de Spoletto (Itália) e Avignon (França). O sucesso foi absolutamente estrondoso em todos os sentidos, não só pelo gabarito dos cursos, a qualidade dos professores, a importância e fulgor dos eventos, quanto a impecável organização.
Para se ter a real dimensão dos Festivais, ressalte-se que neles nasceram o Grupo Corpo (dança), Grupo Galpão (teatro), Giramundo (bonecos) e Uakti (música).
Há que se entender, acima de tudo, que os Festivais realizavam-se em plena ditadura, em cujo clima artistas e pensadores estabeleciam suas convicções democráticas e criativas, militantes de uma causa que não poderia ceder.
Os encontros e debates espalhavam-se pelos becos e cafés, botecos e repúblicas estudantis, na disponibilidade aberta a vazar madrugadas. A cidade fervilhava arte, contestação, juventude e alegria, num hino aberto à rebeldia.
As canções de Chico Buarque, Vinícius e Vandré, irmanadas às dos Beatles, alimentavam o espírito de novas conquistas.
(( Sobe som de Para não dizer que não falei de flores)))
O cenário lírico, de certa forma abissal da cidade, propicia a proliferação de tipos populares. Um deles, “Sinhá Olímpia”, era uma velha senhora atípica, algo hippie, desfilando suas loucuras e devaneios, sua liberdade e seu cajado, com roupas e chapéus pendurados de pedaços de papel, fitas coloridas e velhos maços de cigarros colhidos do chão, e dizendo pérolas de sabedoria, como esta: “Lá vai Ouro Preto embora / todos bebem, ninguém chora”. Olímpia era uma referência humana e turística. Todos queriam vê-la e fotografá-la, ficando famosa a tal ponto, que saiu na revista “Time” americana, tendo sido inclusive tema da Escola de Samba Mangueira, do Rio.
“Bené da Flauta” era outro. Ele não só inventava quanto tocava múltiplos instrumentos, detendo singular astral, um tipo macunaínico espargindo cativante simpatia e encantando toda gente, inclusive o cineasta Joaquim Pedro de Andrade, que o coloca como ator de seu filme “Os Inconfidentes”. Com seu chapéu afunilado e sorriso de transbordante felicidade, num palco Bené roubava sumariamente todas as cenas, mesmo contracenando com os maiores atores do país, de tanta graça.
Reflexo da ebulição cultural da Nação, as décadas de 60 e 70 correspondem aos anos dourados de Ouro Preto. Moravam na cidade os pintores Ivan Marquetti (meu irmão de arte e vida), Estevão, Ninita Moutinho, Nello Nuno e sua mulher Anamélia, e pessoas sensíveis: Lilli Correia de Araújo, a atriz Domitila do Amaral e a antiquária Nídia Ramos (com seus filhos adoráveis), havendo dois outros antiquários, o Toledo, em Ouro Preto, e o Edson, em Cachoeira do Campo. Tinham casa na cidade os artistas Augusto Rodrigues, Carlos Scliar e Ivan Marquetti, além da poetisa americana Elizabeth Bishop, ganhadora do Prêmio Pulitzer, dos Estados Unidos.
O Pouso do Chico-Rei, da Lilli, era o ponto de encontro das figuras maravilhosas, como Dr. Rodrigo Mello Frauco e D. Graciema, e para onde acorriam os intelectuais e artistas, entre eles Vinícius de Moraes (que desejava comprar casa em Ouro Preto), Toquinho, Clara Nunes, Gilberto Chateaubriand, Joaquim Pedro de Andrade, brasileiros, e estrangeiros, como Jean Paul Sartre. Outras casas importantes eram da Nídia, Domitila, do Ivan e Scliar (que passava anualmente aqui os meses de abril, maio e junho, três meses de festa, ebulição e cultura, compartilhando e incentivando os jovens artistas).
Nos carnavais, Ouro Preto revela um lado outro – da tremenda alegria. As ruas transbordam de gente do lugar e de fora, ávidos por se extravasarem. As músicas, tocadas por bandas ou aparelhos eletrônicos nas sacadas, são colocadas em pontos estratégicos, cobrindo de sons as ruas Direita e São José, onde os foliões brincam a noite inteira. Pausa apenas para a cerveja gelada no Toffolo. São muitos os blocos: os tradicionais “Zé Pereira dos Lacaios” (com seus catitões gigantescos e diabinhos com tridentes, abrindo o carnaval), e o “Banjo de Prata”; também os irreverentes “Caixão”, “Bandalheira”, “Balanço da Cobra” e “Bené”. Havia outrora o “Bloco do Carlota”, de retalhos coloridos.
Roteiro Poético
PRAÇA TIRADENTES
Estando-se na praça, a perspectiva do olhar lança-nos ao Pico do Itacolomi, entrecortado por sobrados, o Museu à frente, a torre, as quatro estátuas encimando os cantos laterais[6] e o Carmo emprestando suas duas torres, acentuando a altiva conjugação de elementos verticalizados, com a presença triunfal do Tiradentes dando costas ao Palácio.
Tênue fio de horizontalidade invisível une os dois Tiradentes, olhando-se entre si: o do bloco pétreo de Mártir, no interior do Panteão, e o do obelisco. Miram-se e se vêem, na intactilidade inviolável de quem jamais renegou os ideais.
Cívico e lírico, o cenário revivifica-se na intrepidez do homem que retorna para onde esteve um dia sua cabeça cortada. Retorna em bronze para ficar, pelos tempos e tempestades, contemplando ao longe as montanhas visíveis e ocultas que lhe invadiram o peito de tamanha coragem.
Tiradentes vê, por sobre tudo e todos, deixando-se solapar não mais pelos homens, senão pelas chuvas, os choques e ventos, relentos insondáveis das intempéries noturnas.
Fato raro numa praça de tal imponência é a não-inclusão direta de igrejas, quando o Carmo não participa gloriosamente da cena, intervindo apenas com sua lateral, ainda assim, num canto.
De quem entra na Praça, à direita está o correr de casas geminadas do grande arquiteto Alpoim, desenvolvendo uma seqüência ritmada de sacadas, portas e janelas, algumas destas de propósito “cegas”, num sobe e desce de alturas e proporções, mantendo o nivelamento continuado do telhado, contrastando com o caimento da Praça.
Vendo-se de frente, o Conjunto Alpoim é um quadro de artística composição, entre vazados e não-vazados, que certamente Mondrian assim o compusesse.
Demais sobrados compõem a Praça: a Casa da Baronesa, no número 33 (do Barão de Camargos, hoje sede do IPHAN); a Câmara Municipal (no número 41, onde Niemeyer inspirou-se para a célebre colunata do palácio Alvorada de Brasília); o Casarão do antigo Hotel Pilão, incendiado, no número 51, ora reconstruído pela FIEMG, nele instalando os Caminhos da Estrada Real.
No térreo do prédio da Câmara funciona um ponto de guias de turismo. Quem quiser ser bem atendido, que ali solicite os préstimos de um deles, prontos para explicarem, inclusive em diversas línguas, as histórias e lendas de Ouro Preto.
2 – ANTIGO PALÁCIO DOS GOVERNADORES
Os brancos espaços gloriosos lançam-se sobre a Praça, guardando os governadores no Palácio, isolando-os definitivamente da plebe. Implantado nas fraldas da serra, escorre imponente da rampa e dos altos muros inclinados, dando-lhe feição algo militar, acentuada por quatro guaritas cilíndricas equidistantes.
O Palácio fica a sobranceiro, observando os dois vales laterais e as serras à sua frente. Os governadores espiavam os povos e as gentes no devido distanciamento, afastando-as do alto a baixo.
Maestro das idéias, o brigadeiro, arquiteto e engenheiro militar, José Fernandes Alpoim[7], projeta-o e o bom governador Gomes Freire de Andrade o constrói. 1741 é o ano em que Manuel Francisco Lisboa arremata a contratação da obra, para fazê-la em pedra e cal.
Por aqui passaram governadores diversificados e contraditórios: rudes, cruéis, injustos e apenas um justo, Gomes Freire, conhecido como Conde Bobadela, a torna-se o melhor. De 1733 a 1763 faz pontes para transpor; chafarizes não para compor, mas para água jorrar sem fim das fontes, também os arruamentos necessários, embelezamentos gerais e as benfeitorias públicas vigentes até hoje.
Depois da mudança da capital para Belo Horizonte (1897), o Palácio recebe, por mais de cem anos, a Escola de Minas, exercendo no prédio a glória de sua História. Nele encontra-se o Museu de Mineralogia, um riquíssimo acervo de pedras colhidas em todos os cantos da terra e considerado o segundo maior do mundo, após o de Amsterdam. A visita a este Museu é absolutamente imperdível, para quem aprecia gemas e minerais, no delírio de cores e formas prismáticas gestadas pela imbatível estética da natureza.
3 – MUSEU DA INCONFIDÊNCIA[8]
(Antiga Casa de Câmara e Cadeia)
São tantas pedras, largas e altas, róseas e fundas formando um só bloco monolítico, parecendo-se, de tão certas, um único e só pedaço desbastado, de tanto apuro. Os canteiros que as fizeram eram exímios, tais ourives.
Quanto suor, quanta ciência! Subir essas escadas, tatear as mãos na rugosidade granítica remonta-nos não só aos que as fizeram, quanto aos presos que nelas sangraram seus dias, devastados, dilacerados na solidão das graves grades, apunhalados na sensação de habitar lugar inexpugnável. Acima, os legisladores, livres e airosos, subindo a escada interna, larga e solene da majestade. É sempre assim, a eterna luta humana, as diferenças, aleivosias, desigualdades.
Hoje, o Museu não mais guarda homens como dantes, mas objetos, peças, móveis, armários, candeeiros, aldrabas, tramelas, luminárias, mesas, cadeiras, liteiras, telhas, telhados, canos, encanamentos, espingardas, pistolas, trabucos, quadros, projetos, desenhos, fôrmas, formas tantas de tudo, quase tudo.
Mas sobretudo o espaço não-material, imaterial das células nacionais, neste solo de pedras frias, chão guardando o calor dos sonhos – o Panteão da Inconfidência. Tiradentes reverte-se no tronco gélido, inerte, abaixo da bandeira vermelha e branca, a dizer como antes: “Adeus, minha Pátria, vou trabalhar para todos” —, carregando os restos dos que ali estão ao lado seu, companheiros de lutas também inertes na campa, os restos africanos dos degredados, feridos por deixarem o torrão dos sonhos. Mas voltaram, todos voltaram no silêncio obscuro dos ossos, para o sepulcro da eternidade.
Em metal, Tiradentes lá está, na Praça, na visagem imemorial, quando os tempos restabelecem os grandes círculos, os grandes símbolos e o principal deles – da liberdade. Maciel trouxe a centelha republicana e tantos outros a entenderam, supliciando a si próprios, a substância do próprio ser, a voracidade da própria vida.
4 – CASA DE GONZAGA
Na Rua Cláudio Manuel, ou do Ouvidor, no número 61 residiu, de 1782 a 1788, um dos mais proeminentes homens de Vila Rica, o Ouvidor e poeta da maior expressão, Tomás Antônio Gonzaga, em cuja casa reunia-se a fina flor da intelectualidade da época.
Inconfidente da primeira hora, torna-se dos principais articuladores do Movimento, e viria a ser o primeiro governante, caso desse certo a rebelião. Foi preso uma semana antes do seu casamento com a amada Marilia.
Ao lado de sua residência morava o Tenente Luis Antônio Velasco Saião, casado com Antônia Cláudia Cassimira de Seixas, tios de Marília, onde Gonzaga a conheceu. Após o episódio da Inconfidência, o poeta foi degredado na África, morrendo em 1809 ou 1810.
No rico Solar de generosos jardins internos, funciona atualmente a Secretaria de Cultura da Prefeitura. Era o exato local de onde Gonzaga descortinava deslumbrante cenário: à esquerda, a casa de sua Marília ao longe, à frente o Pico do Itacolomi, a Igreja São Francisco e o prédio, de 1747 (onde seencontra o Hotel Mondego), antiga sede do Colégio Assunção, em que instalou-se a primeira Escola de Farmácia do Brasil, em 1839. Subindo seu olhar, Gonzaga defrontava-se, à direita, com a torre em construção da Casa de Câmara e Cadeia, quando escreve em 1786 as sigilosas “Cartas Chilenas”, atacando violentamente, em forma poética, o governador Luiz da Cunha Meneses.
Aqueles seres, como habitavam essas casas, como povoavam esses quartos, com que sentimentos, sonhos, reservas, lágrimas, desejos? Nessas paredes tardias persistem murmúrios, vozes silenciosas de outrora. Tais moradas são feitas de vultos, mistérios insondáveis de um revelar intangível. Às vezes, vemos ou pressentimos espectros, nesses chãos habitados por ecos.
5 – IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Na São Francisco, mestre Aleijadinho excedeu-se. Torceu a pedra, abriu arcadas, rompeu paredes, afrontou até mesmo a física, concebendo o templo de maior inventividade do Brasil. Estamos diante, simplesmente, da obra-prima do Barroco mundial, segundo Germain Bazin.
No auge de sua criatividade, Aleijadinho mostrou, aqui, seu total talento. Não estava ainda doente quando a projetou (1764), tendo apenas 26 ou 34 anos, dependendo da data do seu nascimento.
Como Baudelaire, aleijadinho sabia que “arte é espanto”. Não mais igrejas retas, sisudas e frias, para isso não servia. Via longe e sabia que arte é fantasia, sabor, espécie, magia. O caminho mais curto entre dois pontos, para ele, não era a pobre reta: era a curva. E nela apostou, nos cheios e vazios, não no árido e lógico quadrado, mas nos círculos, nas vestes rebeldes e espirais curvilíneas da concha.
Nesta Igreja, desloca a fachada das torres, avançando-a fortemente para receber o espectador, propondo-lhe surpreendente dinamização do seu olhar, que se verá dramatizado ao adentrar o templo, que o acolhe na teatralidade.
O óculo sobre a porta de entrada, geralmente vazado, seguindo secular tradição arquitetônica, aleijadinho o fecha sumariamente, colocando aí seu São Francisco em pedra-sabão, a receber de joelhos as cinco chagas no Monte Alverne.
Nas paredes laterais, faz exatamente o contrário: em todos os templos, daqui e alhures, são fechados, com mínimas janelas superiores. Aleijadinho, não. Não quis saber de reles janelas – mas rasgadas arcadas para o sol entrar, até mesmo as águas e as chuvas, privilegiando o mirante triunfal a descortinar-se a partir daí, a paisagem amplificada de montanhas e céus, a ladeira de Santa Efigênia ao longe e sua tão amada Igreja de Nossa Senhora da Conceição, logo abaixo.
Do interior da Igreja, que dizer? Nele imprimiu sua força. O retábulo do altar-mor não mais será fixo, parado, em prumo. Subverte a ordem, suspendendo-o, investindo-o sobre a capela-mor, trazendo-o para frente até atingir o arco-cruzeiro, criando a espacialidade de um palco em andamento, num movimento dinâmico entre a parede e o teto, entre o homem e a imagem.
Em engenharia, trata-se o arco-cruzeiro de uma peça meramente estrutural de sustentação, a partir de onde toneladas de cargas se concentram: pedras, cimalhas, as grossas toras do telhado, telhas, traves, tudo assentando-se neste derradeiro arco, que deverá ser compacto e espesso, forte para resistir. Aleijadinho, jamais! Não quer saber de coisas grossas, pesadas e rígidas. Ao contrário, quer leveza, ar, sintonia da arte com as infinitudes da delicadeza, como um pássaro pousando sem peso, sem volume nem estática.
Arriscando mesmo o desabamento do próprio templo, naquele decisivo ponto nevrálgico do arco-cruzeiro, desbasta suas paredes internas, afinando-as gravemente, colocando exatamente aí seus púlpitos, o da direita e o da esquerda, num vazamento de irresponsabilidade técnica, privilegiando a mais pura estética. Silencioso interlúdio das combinações rarefeitas se restabelece, onde os púlpitos se entreolham, emudecidos, meditando parábolas de Aleijadinho e Athayde…
Porém, ele não é só o projetista. Quem quiser saber do Aleijadinho escultor, que entre nesta igreja e nela veja o altar-mor, a talha, o cinzel ágil, a reflexão sensível da maestria daquele que sabia das alturas.
No lavabo da sacristia, o pega. Neste instante, a doença manifesta-se: as três datas nele inscritas, 1776/77/78, fazem o percurso do antes, da hora e do depois. 1777, este o fatídico ano, quando para sempre teria de se acostumar com o mal que lhe roubaria o corpo. Não a alma Jamais.
Mais que Barroco, Aleijadinho definitivamente é o Rococó. O homem a anunciar às nações que uma arte nova e rebelde aqui se fazia. Foi potente demais não só para anunciá-la, como concretizá-la, professá-la nas lástimas dos seus dias, nas pedras e cedros, nas imaginações intermináveis de sua inextinguível capacidade criativa.
Feio, doído, arredio, talvez tudo tenha sido ingrediente do lancetar-se aos abismos da introspecção, do projetar-se aos fundos de si, abrindo-se aos mundos de um outro mundo. Nele, a dor é busca, afeto, faces de um Cristo que se aproxima, ao qual toca nas lágrimas de sua verdade. O “Cristo Flagelado” e as obras derradeiras dos “Passos da Paixão”, de Congonhas, introjetam a percepção de quem já alumbrava não mais a vida terrena.
Num ato de comovente pungência, Aleijadinho desnuda-se diante de nós, deixando-se flagrar em sua intimidade de trabalho. As inscrições por ele deixadas na parede interna do corredor da sacristia, à esquerda, tocam-nos às raias da emoção. Com suas próprias mãos, quais aquelas dos homens das cavernas, imprime direto na cal o risco do frontispício da portada, em verdadeira grandeza (como se dali tivesse se ausentado há bem pouco), para vermos o processo utilizado na busca milimétrica da perfeição. Cada pedra era ali medida, na parede, talhada e transportada, sendo colocada em seguida no destino final, onde encontra-se definitiva aos nossos olhos, na fachada.
A beleza destas inscrições gráficas remete-nos a outro pujante momento da história artística, quando Michelangelo deixa de propósito intacto o mármore cru, para permearmos a insubstituível força de eternidade contida no “inacabado”, ofertando-nos o próprio processo do fazer.
E o teto? E esta nave flutuante? Quando dois gênios se unem, outro não pode ser o resultado. Em 1800, aos trinta e oito anos, Athayde já detinha os segredos do ofício, rompendo os forros da madeira, propondo o céu à Virgem, que nele se alça por anjos e guirlandas celestiais, neste delírio ilusionista de colunas azuis e vermelhas, em que os crentes, ao se verem nos bancos, tão ínfimos e abaixo, possam entender a transubstanciação do Divino…
Guignard queria ser enterrado na São Francisco, para ficar olhando o teto de Athayde. Ele ali não está, nos túmulos internos do templo, mas no cemitério ao lado. Bem ao seu lado, fronteiriço, descansa para sempre a merecida glória de sua vida, este outro mestre, do esplendor e iridescência das cores, o nosso Ivan Marquetti querido, que repousa junto a outro querido pintor, o Estevão.
6 – CASA DE CLÁUDIO MANUEL DA COSTA
Rua Carlos Tomás, número 6
Nesta esquina de descida forte, a caminho de Antônio Dias, morou o mais brilhante dos literatos da época, o poeta, advogado e líder da Inconfidência, Cláudio Manuel, que certamente prevendo o que viria após sua prisão, suicidou-se (ou morto), na Casa dos Contos.
Considerado um dos maiores intelectuais de todo período colonial brasileiro, Cláudio Manuel, nascido nas terras de Mariana, estudou no Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro e na Universidade de Coimbra.
Foi nomeado Juiz das Demarcações de Sesmarias de Vila Rica. Publicou em Coimbra, em 1768, “Obras”. Escreveu o célebre poema “Vila Rica”, só publicado postumamente, em 1813.
Mais que propriamente árcade, trata-se de um poeta classicista, influenciado por Camões. Seus temas não são bucólicos, mas enfocam, antes, as questões humanas: o sofrimento causado pelo amor, o desencanto da vida e a ausência de sua Nize, uma paixão não resolvida. A trajetória de sua poesia percorre desde a celebração da terra, trilhando a exaltação patriótica, desaguando no sentido das angústias sociais.
Sua casa foi adquirida por Diogo Pereira de Vasconcellos, dos primeiros cronistas e historiadores de Minas, que nos lega precioso perfil da sociedade da época, no seu “Breve Descrição Geográfica, Física e Política da Capitania de Minas Gerais”. Diogo vem a ser pai do ilustre brasileiro e estadista do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, que nasceu nesta exata casa em 1795. Bernardo era homem de prodigiosa cultura e projetou-se pela excepcional oratória, elegendo-se Deputado, Senador e Líder Liberal do País.
Tornou-se monarquista, ocupando os mais elevados cargos: os de Ministro da Fazenda, da Justiça e do Império. Foi o primeiro a propor a unificação do Estado Brasileiro. Criou o Colégio D. Pedro II, para a formação das elites dirigentes, o Instituto Histórico e Geográfico e o Arquivo Público Nacional.
Apesar de monarquista, não concordou com a “maioridade” de Dom Pedro II, afirmando: “quem dorme com criança amanhece mijado”.
7 – MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Há controvérsias sobre o projeto da Matriz: se autoria de Manuel Francisco Lisboa ou não. No local, outrora, havia pequena capela, erigida por Antônio Dias, em 1699. A construção da atual Igreja inicia-se em 1727, estendendo-se até 1770. Importantes essas datas. As discussões sobre o nascimento de Aleijadinho persistem até hoje: se 1730 ou 38. Portanto, esta Igreja corresponde seguramente à sua infância e juventude, ao presenciar o gigantismo de um algo notável acontecendo.
Ele morava a poucos palmos, e praticamente a Igreja edificava-se no quintal de seus olhos, observando o bater pregos, o serrar toras, o quebrar pedras, vendo em menino a vertigem das alturas, as taipas subindo as naves se ampliando, o roteiro de um fato fascinante desenvolvendo-se diante de sua perplexidade sensível.
A Matriz de Nossa Senhora da Conceição funcionou-lhe como laboratório do ofício, brincando por ali, pegando pedaços de madeira, apalpando martelos e formões, sentindo os tamanhos dos cravos, o perfume das tintas, a consistência da cal, ouvindo as conversas, os sons, o saber vindo dos inúmeros oficiais e principalmente de seu próprio pai – o arauto e timoneiro que detinha a liderança de todo templo.
A importância do pai não foi apenas no sentido técnico do aprendizado, mas da mão que corria sobre os encaracolados cabelos da criança, recebendo carinho do grande pai. Manuel Francisco Lisboa torna-se desde criança, o ídolo do filho, e muito da grandeza do filho provém do pai, o português vindo com seu mano, o carpinteiro Antônio Francisco Pombal para descobrirem seus incógnitos destinos no infinito Brasil.
Quantas vezes brincaste neste pequeno solo que te abriga, no Altar da Boa-Morte! Mal sabias que ali te instalarias um dia. Não! Ali não estás! Teus poros e células mortas, o que de ti restou, ali não está. Tu te repousas noutras terras, noutros altares sem-terra, nos umbrais alçados às magnitudes extremas, celestiais.
Como um Santo, aquele mesmo de Assis, o povero Francisco — a quem devotaste suor e sangue do teu labor —, o mesmo se dirá de ti, Antônio, que tens também Francisco no nome, e que recebeste também as chagas — não apenas aquelas cinco do Monte Alverne —, mas as iluminações telúricas, não de um, mas dos infindos e sagrados montes das terras mineiras.
8 – MINA DO CHICO–REI
Entrar nos porões da terra, sentir o terrível drama de trabalhar sem ar, de se ter apenas o oxigênio mínimo da tolerância humana, dentro de túneis estreitos e canais onde mal cabe um corpo, e ainda assim respirando só poeira – eis o que seja a realidade de uma mina.
Apesar de absurdas condições, o minerador tem com o ofício ambígua relação, de paixão e fascínio: paixão por resvalar as entranhas da própria terra, e fascínio pela possibilidade de enriquecimento repentino, quando descobre um frutuoso veio. Porém, antes de tudo, ser minerador é ser um forte, desses que afrontam as decisivas leis do sobreviver. Forte como o era Chico-Rei, nesta mina trabalhando e sofrendo forte, desses buracos colhendo o suado metal dourado, que lhe daria proeminência, liberdade, liderança e riqueza.
Manuel Bandeira descreve-o: “Francisco, rei africano, foi aprisionado e vendido para escravo com toda a sua tribo. A mulher e todos os filhos, menos um, morreram na travessia do Atlântico. Os sobreviventes foram encaminhados às minas de Ouro Preto. Homem inteligente e enérgico, Chico Rei trabalhou e alforriou o filho, em seguida os dois trabalharam para forrar um patrício e assim sucessivamente se forrou toda tribo, que passou a forrar outros vizinhos da mesma nação”.
Percorrer esta mina, também chamada de “Encardideira”, é estranhíssima aventura. Ela encontra-se como antes, há séculos, intacta. Ficou esquecida no tempo, até 1950, quando o jovem Giovanni descobriu-a, ao acaso. Dona Mariazinha é a Sinhá dos encantamentos e lendas desta mais célebre mina do século XVIII.
9– CASA DE PEDRO ALEIXO, ÚLTIMA MORADA DE GUIGNARD
Praça Antônio Dias, número 80.
Majestoso sobrado onde residiu o marianense Pedro Aleixo, insigne advogado, Deputado Federal e Vice-Presidente da República. Amigo de Guignard, emprestou-a ao artista, onde nela existe, atualmente — no quarto em que dormia o pintor —, fotos e objetos seus. Na casa funciona a Fundação de Arte de Ouro Preto, que possui ainda outra sede na Rua Getúlio Vargas. Na antiga casa de Bernardo Guimarães, foi inaugurada outra ainda, para os cursos de ofícios da FAOP.
Guignard vinha a Ouro Preto em temporadas, hospedando-se no Hotel Toffolo ou no Grande Hotel.Ele Nunca morou na cidade, à exceção do último ano de sua vida, ao residir nesta casa, de 1961 a 62.
O bairro Antônio Dias era uma de suas temáticas preferidas. Adorava crianças e quando instalava seu cavalete nas redondezas de Antônio Dias ou quaisquer outros lugares, seus bolsos estavam sempre repletos de balas para presentear à meninada.
Sentava-se nos bancos da ponte de Marília, observando, desenhando, fruindo a paisagem e as pessoas.Era homem de modos simples e a autenticidade era sua marca.
Intitulava Ouro Preto de “cidade amor inspiração”. Outras vezes, quedando-se sobre pontos elevados e descortinando céus e montanhas ao longe, chamavam-nos de “paisagens imagiantes ou imaginárias…”
Ferreira Gullar compreendeu a indissociável junção: “Guignard e Ouro Preto terminaram por tornar-se imagem um do outro”.
As emocionantes fotos em preto e branco dele subindo a ladeira da Rua Cláudio Manuel, já ao final da vida, com seu surrado paletó escuro e sua pequenina caixa de pintura à mão ou vendo-o pintar diante da São Francisco, repleto de alunos e espectadores à sua volta, ou aquela em que observa ao longe sua amada Ouro Preto, remonta-nos à delicadeza do poema de Cecília Meirelles, de 1949:
“E ali na rua das Flores
na varandinha do bar
tem a figura risonha
do grande pintor Guignard
que Deus botou neste mundo
para Ouro Preto pintar.”
10 – CASA E PONTE DE MARÍLIA
Se a Arcádia reverenciava o lirismo e o romantismo, a cidade haveria de despertar mágicos romances, e o mais belo terá sido, sem dúvida, o de Marília e Dirceu. O cenário não poderia ser melhor – da Vila Rica dos enlevos exultantes, das paixões que sobrevoam pássaros e homens aos encontros.
Nesta terra dois seres se amaram e juraram amor perene: o Gonzaga de meia-idade e a quase ninfa, Dorotéia, unindo seus corações por olhares distantes, quando ele, do alto, e ela, dos baixos de Antônio Dias, se entreolhavam de ardores Lá,ela ficava, em sua “rasgada janela”, e ele a via, em suspiros, “a minha Marília bela…”
A casa não mais está, mas a “terceira ponte”, sim, esta mesma onde hoje “chovem flores de madrugada” (no dizer de Larrisa) sobre os bancos arredondados de pedra ou sobre os notívagos passantes, em busca de seus próprios romances.
Ledo Ivo, dedica o poema “Lira” a Marília :
“Mas verás no silêncio de astros mudos,
luzir ao sol a estrela dos amantes
e a corola de vozes nos pomares
e a lira dos instantes”
Ornam seu peito
As sãs virtudes,
Que nos namoram;
No seu semblante
As graças moram
Assim vivia;
Hoje em suspiros
O canto mudo:
Assim, Marília,
Se acaba tudo!
Marília de Dirceu
Lira IX Versos XVI e XVII
Tomaz Antônio Gonzaga
11 – CHICO-REI E IGREJA DE SANTA EFIGÊNIA
Os negros eram tantos, maioria. Qual Zumbi dos Palmares, Ouro Preto teve seu ilustre líder negro: Chico-Rei, o jovem rei africano colhido no Congo e feito escravo qualquer. Só que não era “qualquer” – era Rei. E Rei continuou, na premissa das mais nobres estirpes. De escravo que era, trabalhou duro na mina, alforriou-se, projetou o sonho de si e de toda nação negra, voltando a ser o Rei que nunca deixou de ser.
Segundo lenda, Chico-Rei construiu em promessa a Igreja de Santa Efigênia, onde negras traziam na carapinha dos cabelos o ouro em pó, depositando-o na pia, sedimentando fundos para a construção do templo.
Movidos a música, os africanos têm festa no sangue. Guerreiro-da-paz, Chico-Rei restabelece entre nós a alegria, incorporando aos ritos religiosos inúmeros elementos afros, na cultura íbero-cristã, introduzindo congados e reisados às tradições mineiras. Os negros elevaram os sons dos atabaques às culminâncias do órgão. O adro da Igreja de Santa Efigênia era o palco das principais festividades e o ponto de congraçamento dos negros.
Um povo evidencia-se pela força coletiva de suas festas e hoje, no Brasil, as grandes festas de Minas são as da Semana Santa, do Rio e da Bahia, o carnaval; e do Nordeste, as festas juninas.
Em “Acalanto de Ouro Preto”, Murilo Mendes nos fala:
“(…) Dormi, dormi embuçados,
marginais, envergonhados
leprosos, fora-da-lei,
vagabundos, revoltados,
órfãos, párias, renegados,
libertos por Chico-Rei
que forrou tribos inteiras
africanas, brasileiras,
ei !
Encobre, Ouro Preto, encobre
no alto de Santa Ifigênia
o espectro de Chico-Rei (…)”
12 – CAPELA DO PADRE FARIA
O antigo povoado de Padre Faria viu nascer uma das primeiras capelas, a de Padre Faria, em homenagem ao padre João de Faria Fialho, acompanhante de Antônio Dias em sua bandeira vitoriosa.
A atual capela, de 1710, corresponde à primeira fase do Barroco mineiro, quando as torres eram ainda separadas do corpo da igreja, que se juntariam em estágios posteriores.Possui riquíssima talha, e pinturas sinalizando influência chinesa.
No adro da capela do Padre Faria encontra-se a única Cruz Papal da cidade, simbolizando os três poderes da Igreja: temporal, eclesiástico e espiritual.
O Presidente Juscelino, num gesto de carinho a Ouro Preto, que ele tanto amava, solicitou a vinda do velho sino do Padre Faria, justamente para saudar, com seus maviosos sons, a primeira missa da inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960.
A capela encontra-se hoje absolutamente deslocada. A profusão de casas recentemente construídas, de laje e tijolos à vista anularam totalmente o entorno, num processo aviltante de gravíssima irresponsabilidade. Esta região é um sinal de como as coisas em tão pouco tempo podem perder-se para sempre.
13 – IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO
Trata-se a Igreja do Carmo de projeto a quatro mãos, talvez a obra que Aleijadinho mais desejasse, pela fraterna parceria com seu pai.
Morre-lhe o pai em 1767, um ano após entregar à Ordem Terceira do Carmo, o risco (nome dado aos projetos arquitetônicos) da Igreja. Logo a seguir, Aleijadinho introduz-lhe alterações substantivas, emprestando maior graça ao templo.
Vê-se claramente o que ainda é do pai e quais intervenções do filho. São duas gerações, duas visões. Se não existisse o Manuel Francisco, talvez não existisse o Antônio Francisco. Pai e filho reaproximam interlocuções de oceânicas espécies: o de além-mar e o de aquém. A substância ultramarina do pai propicia ao filho certa universalidade, uma grandiosidade que ainda não tínhamos.
Havemos de entender que Manuel foi dos mais notáveis homens de seu tempo. Portanto, Aleijadinho tinha ao lado de si o que havia de melhor, como mestre e instrutor. Evidente, isto não é tudo. Seu próprio irmão, Félix, padre e igualmente escultor, nem por isso trilhou êxito idêntico. Faltava-lhe o principal: talento.
Na fachada da Igreja, algo inédito se anuncia, quando Aleijadinho interrompe as duas colunas, deixando-as não explicitas, apenas citando-as em capitéis soltos, presos à cimalha. Novamente, a pedra-sabão é tramitada, propondo à Virgem do Carmo que seja enlevada por anjos, tendo acima o original óculo trilobado a ampará-la em sua assunção, na mais feminina de todas as fachadas de Aleijadinho.
As paredes externas, laterais da Igreja revelam a sempre ousadia do mestre. Provavelmente, nenhum outro arquiteto àquela época fizesse o que ele ali fez. Trata-se de brilhante aula de arquitetura, do que seja a arte de pensar espaços dentro de refinada estética. Nestas paredes, na relação dos quatro panos brancos demarcados por cinco colunas, vê-se a progressão de sacadas, janelas, portas e óculos, que se superpõem e se assentam sobre a parede, onde o mestre há de criar.
Aleijadinho propõe-nos, aqui, o dinamismo inesperado, não a modulação renascentista geométrica e previsível, mas a proposta assimétrica, assindética da fantasia, interrompendo a digressão lógica do pensamento. Esta parede infunde-nos a beleza de se ver e fruir, não de falar, conduzindo-nos à sensação de puro prazer.
Aleijadinho nasceu para criar, jamais repetir.O mesmo pode-se dizer do maior arquiteto Brasileiro atual Niemeyer em que se vê idêntica ousadia, vindo justamente buscar significantes elementos no Barroco, incluindo curva, inspirando-se nas obras imortais do passado.
Os mais lindos crepúsculos são vistos do adro do Carmo. Por que o entardecer cor-de-ferro? Resultante das terras refletindo nas nuvens, o céu se impregna das essências ferruginosas rebatendo os fortes cromatismos na despedida de cada dia.
O cemitério guarda os irmãos da Ordem e para ali levamos amigos queridos a nos deixarem, como o compadre Nelson Queiroz, Dr. Caran e, neste momento que estou escrevendo as últimas palavras deste livro, deixo minha casa, subo a ladeira Carmo e ali estou, no dia de hoje, 8 de Outubro de 2010, para, levar junto com seus parentes e de Ângelo Oswaldo e Dr.Caran, as cinzas do grande ouropretano, Cássio Damázio.
No poema “Carmo”, o cemitério a céu aberto inspirou Drummond:
“ Não calques o jardim
nem assustes o pássaro,
um e outro pertencem
aos mortos do Carmo.”
14 – MUSEU DO ORATÓRIO
Instalado na antiga Casa do Noviciado do Carmo (onde Aleijadinho morou quando trabalhava na construção da igreja), o Museu do Oratório, extremamente original em sua natureza, guarda as relíquias resguardadas da fé.
Dentro e fora de si, o homem necessita de seus códigos de admissão. Admitir-se na sustentabilidade espiritual, torna-se inevitável, para infundir-se de certezas dos seus débeis passos.
O inesperado da vida ocorre a qualquer momento. Temos, cada um, nossas dores, dúvidas e angústias. E não se sabe do amanhã. A fé registra os devotos na convicção da crença, e dela se socorrem, pela devoção, lançando suas preces aos infinitos.
Tradição provinda dos gregos e romanos, são inúmeros os tipos de oratórios: os para ficarem em casa, fixos; os para viagens, portáteis. Onde vai, o fiel vale-se destes objetos carregados de misticismos, lágrimas doídas de tristezas, pelas perdas. Também, das alegrias da gratidão. As portas são para que ninguém nele penetre, preservando-se a inviolabilidade do sagrado.
Dentro da temática da reverência de santos e do Cristos, há uma relação imagética especifica. Os Cristos apresentados mortos são chamados de Senhor do Bonfim; aos vivos são conhecidos por Senhor da Agonia.
Graças à sensibilidade da colecionadora Ângela Gutierrez, podemos permear o precioso universo da intimidade mineira. Além do raríssimo acervo em si, destaca-se o altíssimo nível da proposta museológica assinada por Pierre Catel.
Com a curadoria de Ângelo Oswaldo foi realizada grandiosa exposição das obras do Museu no Petit Palais de Paris, e várias peças de seu acervo foram exibidas no Bid, de Washington.
15 – TEATRO MUNICIPAL (CASA DA ÓPERA)
O mais antigo de todos os teatros das Américas, implantado no Morro de Santa Quitéria, o Teatro Municipal foi construído em 1770, por desejo pessoal do português João Souza Lisboa, para si e a comunidade, no estilo elizabetano. Visto em planta-baixa, tem o desenho de uma lira.
Possui quatro níveis de galerias e camarotes, excepcional acústica e trezentos lugares na platéia, edificado aproveitando-se o caimento natural do terreno. Pelo lado de fora lembra mera casa qualquer, tamanha simplicidade. Por dentro, surpreende pela grandiosidade do espaço, a perfeita visibilidade dos espectadores, a facilidade de se subir os degraus das escadas e a largura e profundidade do palco. Junto ao de Sabará, são dois primores.
Cláudio Manuel produziu peças, aí encenadas, como “Parnaso Obsequioso”. No período áureo da ópera, muitas foram apresentadas, sobretudo de Rossini e Mozart. Rui Barbosa nele discursou e muita gente importante pisou e se apresentou em tão histórico palco.
Vinícius, Toquinho, Clara Nunes e João Bosco nele estiveram. Inesquecíveis peças de teatro, com atores locais e de fora foram igualmente ali aplaudidas, entre elas: “A Rua da Amargura”, direção de Gabriel Vilela, pelo grupo Galpão; “Cobra Norato”, de Raul Bopp, pelo grupo Giramundo; “Ópera dos Três Vinténs”, de Bertholdt Brecht, direção de Wilson Oliveira; “Aurora de Minha Vida”, de Naun Alves de Souza, direção de Wilson Oliveira e “A Dama da Madrugada”, de Alejandro Casona, direção de Helvécio Guimarães;
Nelson Freire, Arthur Moreira Lima, Berenice Menegale e Eduardo Hazan, entre outros, fizeram concertos de piano da mais alta categoria.
Ao lado do teatro situa-se o Pouso Chico-Rei, que foi residência do Marquês do Paraná no século XIX. Em frente encontra-se o imponente “arranha-céu”, em estilo “chalé” (provavelmente construído por Henrique Dumont), onde hoje encontra-se o Hotel Casa da Ópera e o Restaurante Deguste, exatamente a casa que Vinicius de Moraes queria adquirir, e com quem fui conversar com os antigos proprietários. Era uma teia tão complexa de descendentes que Vinícius acabou por desanimar.
16 – RUA DIREITA
Reminiscência portuguesa, “rua direita” era o nome dado à rua que unia os dois pontos principais da cidade. A de Ouro Preto, também chamada Conde Bobadela, nasce na Praça Tiradentes indo em direção à Matriz do Pilar.
Nela pousam telhados e paredes de inúmeros sobrados, numa sucessão rítmica decrescente, compondo o cenário em que a Imperial Capela de São José levanta-se ao fundo, deixando livre as nuvens entre suas torres vazadas.
Na rua habitava o inconfidente, Tenente-Coronel Francisco Gomes Freire de Andrade, em cuja casa (número 59), realizaram-se secretas reuniões, principalmente a decisiva de 26 de dezembro de 1788, para a tomada do Poder.
Pouco abaixo, do mesmo lado, à esquerda, vê-se a única casa de pedra na fachada (número 85), pertencente à família do Dr. Rodrigo Mello Franco de Andrade, que a reconstruiu na década de 40, segundo projeto de Lúcio Costa. Entre os amigos de Dr. Rodrigo e D. Graciema estava Guignard, que veio a fazer. Na casa pintou diretamente na parede, o imenso painel de “ Marília”.
Quase em frente (número 110), Guignard povoa em seus quadros, no Museu a ele dedicado. Ali estão obras absolutas no conceito do que seja a grande arte de pintar: os retratos da escritora Lúcia Machado de Almeida e o de um jovem anônimo atestam a definitividade universal do mestre. As cartas desenhadas nos anos 30, de platônica paixão à amada Amalita e à destinatária, perfazem o perfil lírico do gênio das transparências.
O Museu Casa Guignard encontra-se defronte ao Beco do Arieira, que exibe suas pedras no chão e nos muros da casa contígua, à esquerda, com tênues flores coloridas pendendo-se delicadamente sobre as pedras.
O Museu lançou o “Mapa dos Passos de Guignard em Ouro Preto”, organizado pelo diretor,o artista Gélcio Fortes. A Secretaria de Cultura do Estado de Minas está organizando o “Projeto Guignard”, catalogando-se toda sua obra.
Na rua Direita, um show se reserva nas chuvas, quando as águas descem profusas dos elevados condutores, vindo bruscas sobre as calçadas e os transeuntes molhados.
Quantas meninas, quantas Marílias passaram por pontes, subiram e desceram esta rua em suas cadeirinhas de arruar! As moças não podiam andar pelas ruas e eram levadas de liteiras até dentro das igrejas.
17 – CHAFARIZ DOS CONTOS
“IS QUAE POTATUM COLE GENS PLENO ORE SENATUM SECURIT UTISITIS NAM FACIT ILLE SITIS”, diz a inscrição sobre o itacolomito, que em português é mais ou menos assim: “ quem bebe, louva os dirigentes da cidade, de boca cheia, pois está sedento e tem sua sede aplacada.”
Não só pelo enunciado em latim, mas este, o dos Contos (também à época chamado de São José), decididamente é o mais belo dos chafarizes, com suas imensas volutas em pedra, laçando ao centro a exultante concha, donde, cristalina, do seio da terra a mesma água escorre por séculos.
Não havia água nas casas e as pessoas se salvavam exclusivamente destas águas, indo com seus potes ao chafariz de Águas Férreas, Alto da Cruz, Antônio Dias, Rosário, Praça Tiradentes, Rua da Glória, Rua das Flores.
No local onde hoje encontra-se o Cine Vila Rica, bem em frente a este chafariz, funcionou até 1950 o Liceu de Artes e Ofícios.
Percebe-se a delicadeza de Cecília Meirelles em “Pequeno Poema de Ouro Preto” :
“Enquanto as fontes
contam histórias
belas e tristes
mas já muito antigas
O rio, a ponte,
os bancos de pedra
a cruz, os santos,
sobem de outras vidas.”
18 – CASA DOS CONTOS
(Rua São José, número 12)
Há de se ver em Ouro Preto o que era um palácio. Nas fachadas, nobres cantarias margeram os cantos, com florões assinalados, e na faca principal vigorosos ferros recurvados compõem as sacadas. Amplas portas abrem-se no térreo, a fazerem entrar carruagens e cavalos, donzelas e mucamas.
Raramente se verá mansão tão solene, generosa nos espaços, quartos, salões, corredores, escadas. Não são tantos os cômodos, mas cada um guarda o tamanho de uma casa.
Ao rés da rua, penetra-se o salão majestático da amplidão e somos colhidos, de imediato, pelo arranco da esplêndida escadaria à direita, convidando-nos a subi-la. Fica-se porém no impasse: se subimos, ou se avançamos direto ao pátio interno, à frente, guardado por arcadas romanas imensas e levar-nos ao Forno de Fundição, onde outrora transformava-se ouro-em-pó em barras, retirando-se, antes, a severa quinta parte da Coroa.
A Casa dos Contos foi construída pelo banqueiro e contratador João Rodrigues de Macedo, que a fez para comércio e moradia, mas pouco pôde dela aproveitar-se. Na ânsia de requinte estético em demasia, endividou-se por completo, vindo a perdê-la para o Real Erário. Não importa. Ficou na história não pelo dinheiro que possuía, mas pela suntuosa obra edificada, certamente dos mais imponentes exemplares da construção civil de todo Brasil-Colônia.
Nos porões, a crueza do que era a senzala hostil, gelada do córrego lateral a recender-lhe umidade, com os escravos ali vivendo quase nus e enrijecidos de frio, uns sobre os outros na mais plena masmorra.
Foi prisão de Álvares Maciel, Padre Rolim, Cônego Vieira da Silva e Cláudio Manuel. Sob a escada do hall de entrada, acabou-se tragicamente Cláudio Manuel, aí suicidando-se (ou não) em 1789, na madrugada de três para quatro de julho.
Murilo Mendes, se estarrece com o episódio:
“O espectro de Cláudio Manuel
contorna a Casa dos Contos;
presa a um cadarço vermelho
traz a cabeça na mão,
rogando uma ave-maria
para obter perdão”
19 – RUA SÃO JOSÉ
(Chamava-se Tiradentes até cerca de 1945)
Inicia-se na Casa e Ponte dos Contos, seguindo-se numa quase só reta, desaguando no Largo da Alegria. Na Ponte dos Contos, à noite os passantes são recebidos pelo perfume encanado de plantas vindos do horto botânico.
Plana na topografia, a rua São José tem uns trezentos metros de sobrados unidos entre si, persistentes na quase mesma altura das cimalhas, que se ligam contínuas, no telhado, na beleza de seus portais enfileirados, exibindo lado-a-lado sacadas e janelas coloridas, contrastando com as paredes alvas, ligeiramente ébrias na prumada.
Logo à direita, no número 72, encontra-se o tradicional sobrado do Toffolo — o hotel em cima e o bar embaixo —, há muito comandados pela graciosa Dona Gracinda, cujo local tornou-se célebre ponto de intelectuais e artistas, entre eles Niemeyer, Lúcio Costa, Pedro Nava, Drummond, Guignard e Marcier, hoje revigorado com suas agradáveis mesas na calçada anexa, para um bom bate-papo.
Tiradentes morava no número 132. Após o enforcamento, a casa foi derrubada, salgada a terra e seus descendentes considerados infames por três gerações. Pouco após, quase defronte, está a casa docemente inclinada onde nasceu o poeta simbolista, Alphonsus de Guimaraens, nos números 165/167 hoje Restaurante chafariz.
A morte prematura de sua namorada e prima, Constança, filha do romancista Bernardo Guimarães, atinge-lhe a alma sensível, provocando-lhe sentimentos definitivos de dor, perda, angústia e saudade, impregnando-lhe a mística poesia de toda sua vida.
Alphonsus evoca sua Constança:
“Foi pelo meado de setembro,
no Jubileu, que vim a amá-la.
Ainda com lágrimas relembro
aqueles olhos cor de opala”.
Na lápide de seu túmulo no cemitério de Sant’Ana, de Mariana, esta estrofe bem expressa sua trajetória:
“Minha’alma é uma cruz
enterrada no céu.”
Da mesma forma aos 25 que Alphonsus foi conhecer Cruz e Souza, no Rio de Janeiro (1895), Mário de Andrade aos 26 deslocou-se de São Paulo especialmente para visitar Alphonsus em Mariana, no dia 10 de julho de 1919, na Rua Frei Durão, 84. Escreve Mário: “Em Mariana fui encontrá-lo na escuridão da sua casa de trabalho, sozinho e grande (…) e foi uma hora de inesquecível sensação a que vivi com ele. Na tristura cinza do aposento, pude dizer-lhe pausadamente, em calma, as lindas coisas que eu sentia sobre a sua arte desamparada e incompreendida (…) foi uma hora de êxtase em que eu não disse nem um bocadinho que era poeta (…)”.
Sobre o impacto deste encontro entre Mário e Alphonsus, Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema “A Visita”.
Manuel Bandeira lamenta a não entrada de Alphonsus na Academia Brasileira de Letras: “(…) e o movimento simbolista passou sem deixar uma poltrona da casa de Machado de Assis um grande nome, e no simbolismo só houve dois – Cruz e Souza e Alphonsus.”
Na morte de Alphonsus, escreve Oswald de Andrade, no Jornal do Comércio, em 24 de julho de 1921: “(…) Alphonsus valia, sem dúvida, todos os poetas juntos da Academia Brasileira. Faleceu em Mariana, pobremente, onde vivia fazendo há vinte anos os melhores versos do seu país (…) poetas como ele honram não só numa geração como uma pátria”.
20 – OS PASSOS DA PAIXÃO
Quase ermas, várias pequenas capelinhas espalham-se pela cidade, abertas unicamente na Semana Santa – os chamados Passos da Paixão de Cristo, só vistos uma vez por ano. Eles localizam-se no trajeto por onde passará a procissão, entre as duas matrizes, e são eles: os Passos de Antônio Dias, Praça Tiradentes, Rua São José, Getúlio Vargas e Ponte Seca.
Segundo história e tradição, no momento da subida de Cristo ao Calvário, uma piedosa mulher, de nome Verônica, enxugou-lhe a face com um Véu, no qual permaneceram marcados os traços do Senhor.
Na Procissão do Enterro, diante destes Passos, todos param. E se aquietam. Nenhum suspiro. Nenhuma voz. Faz-se sepulcral silêncio na multidão, enquanto Verônica entoa, em latim, o cântico à morte do Salvador: “O vos omnes…”, desenrolando, lentamente, o trágico Véu:
| “Ó vós todos Que passais pelo caminho Olhai e vede Se há dor Semelhante à minha dor!” |
“O vos omnes
Qui transistis per viam
Atendite et videte
Si est dolor similis
Sicut dolor meus!”
21 – IGREJA DO ROSÁRIO
O Rosário é um cântico às curvas, o pleno colóquio do pensamento curvilíneo, quando se mesclam circulares, maiores ou menores, as sempre curvas sucedendo-se concêntricas umas dentro das outras, na orgia do escultor que as quer voluptuosas, propulsivas no espaço.
A pedra comunga o contraponto operístico, estabelecendo-se lúdico espetáculo de pirotecnia, donde frontões, gárgulas e resplendores projetam-se insinuantes. De tanta graça rendilhada, as pedras parecem sem peso algum, finalizando nas grimpas, num recital filigranado de pináculos, torres e cruzes.
Obra de carpintaria e engenharia extremamente complexas, o telhado continua o diálogo explícito, elíptico de sinuosidades, acentuando a leitura parabólica de todo oconjunto.
A própria estrutura do Rosário já é, em si, pura arquitetura, no conceito borromínico[9] de criar. Entende-se por arquitetura não apenas a grandiosidade dos corpos volumétricos gigantescos, mas o discurso das minudências, riquezas contidas nos detalhes, encaixes, recortes e entalhes.
Certamente, dos mais lindos instantes de beleza de Ouro Preto esteja no interior deste templo, exatamente no seu arco-cruzeiro, quando o encontro das duas naves propõe-nos momento de musical delicadeza, pelo toque sinfônico das duas amplas paredes arredondadas entrelaçando-se nas alturas.
Em “Noturnos de Belo Horizonte”, Mário de Andrade refere-se a Chico-Rei:
“Lumeiro festival… Gritos… Tocheiros…
O triunfo Eucarístico abala chispeando…
Os planetas comparecem em pessoa!
Só as magnólias – que banzo dolorido!
As carapinhas fogas polvilhadas
Com a prata da Via Láctea
Seguem prá igreja do Rosário
E pro jongo de Chico-Rei…”
22 – MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR
Construída sem um grande adro, o Pilar esconde-se meio de esgueio atrás de casas, não se deixando ver por completo. Esta Igreja expressa o jesuítico ideário da pobreza e da riqueza. Como os homens, a linguagem da arquitetura deveria ser idêntica na revelação: de roupagem externa simples, contrastando com o interno.
Pilar, a pompa. Total pompa do interior, exaustão absoluta da talha suprindo as paredes de santos, colunas, entablamentos, atlantes, baldaquins, dosséis e lambrequins, superpondo-se na profusão dos retábulos do altar-mor e das lateralidades, onde branco não há, só ouro recobrindo anjos desnudos e vestidos.
Mestres ilustres da pintura e escultura, José Carvalhais e Xavier de Brito forraram tetos e púlpitos, para fazerem nascer a obra barroca por excelência. E o terceiro mestre, Pombal, tio do do Aleijadinho, cria prodigiosa obra-prima de carpintaria, que, de tão esfuziantemente repleta, se possa dizer o “milagre do Pombal”.
Por dentro, a nave converte-se em navio, nesse percurso resoluto de paredes de propósito inclinadas, parafraseando os polígonos uníssonos do teto, fazendo girar o olho estarrecido de quem o contempla, crispando-nos as frontes assombradas de um algo que jamais se verá igual.
Tudo para glorificar o Santíssimo que a adentraria, na histórica Festa do Triunfo Eucarístico, em 1733, quando a Sagrada Eucaristia viria percorrer, em romaria, do Rosário ao Pilar, o maior de todos os símbolos litúrgicos.
Por três dias seguidos badalaram sinos, as ruas e casas luxuosamente se enfeitaram, bordaram-se estandartes a fio de ouro, cavalos e fiéis paramentaram-se no apoteótico caminhar da procissão, na esperança de guardar o emblema maior do Senhor. Ouro Preto conquistava a glória da máxima exuberância, e tanto a Festa quanto o Pilar significaram a entrada da cidade, em definitivo, nos anais do esplendor.
Participante do acontecimento, o cronista Simão Ferreira Machado, descreveu-o: “mais que esfera da opulência, Vila Rica é teatro da religião (…)”.
Ao se comemorarem os 260 anos da Festa, ela foi reeditada em 1993 no mesmo percurso, aos cuidados de Jota Dangelo e Raul Belém Machado, sob coordenação geral do grande jornalista e intelectual, Mauro Werkema, à época Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura. A Festa foi novamente reencenada em 2006.
23 – CASA DE SANTOS DUMONT
(Rua Alvarenga, número 12)
Os séculos misturam-se. Depois do fausto do dezoito, a falência do dezenove. Entre raríssimos fatos do dezenove, a construção da ferrovia foi dos mais relevantes.
Segundo Ricardo Pereira, proprietário desta casa, ela foi construída por Henrique Dumont em 1853, no estilo alsaciano, conhecido como “chalé”, de influência francesa, sendo a primeira construção não-colonial em Ouro Preto, onde empregou-se alvenaria de tijolo pela primeira vez.
Além dele, localizado na ponte do Caquende (palavra africana significando “água limpa”), Henrique Dumont construiu outros, como o da Chácara dos Queiroz, na encosta das Lages, adquirido por Ivan Marquetti e Scliar na década de 1960.
A vida de Alberto Santos Dumont passa por Ouro Preto. Seu pai, Henrique Dumont (1832/1892), de descendência francesa, nasceu em Guinda, pequena localidade perto de Diamantina. Ele foi estudar o ginásio em Sèvres, França, e engenharia na École Central de Paris. Voltando ao Brasil, Henrique veio morar em Ouro Preto, onde casa-se com a ouropretana Francisca Santos, filha de Rosalina Francisca Oliveira Catapreta Santos e do Comendador Francisco de Paula Santos, também ouropretano, rico minerador e proprietário da famosa Mina do Gongo-Soco. O casamento efetuou-se na Matriz do Pilar em 1856, sendo a recepção neste chalé da Rua Alvarenga.
Henrique e Francisca tiveram oito filhos, sendo Alberto o penúltimo, nascido em 20 de julho de 1873, na Fazenda Cabangu (localizada na cidade mineira de Palmira, hoje Santos Dumont), que seu pai alugara para nela instalar sua família, enquanto construía a ferrovia entre Santos Dumont e Barbacena.
Havia muita afeição entre pai e filho, mas Alberto tinha verdadeira veneração pela mãe, mulher religiosa e deprimida, que veio a suicidar-se no Porto, Portugal, onde moravam suas duas filhas.
Era desejo de Alberto Santos Dumont estudar engenharia na Escola de Minas de Ouro Preto, chegando a matricular-se em fevereiro de 1890 no Curso Fundamental, espécie de cursinho preparatório, período em que residiu neste chalé com seus avós maternos. Nesta época seu pai tornara-se grande fazendeiro no interior de São Paulo. Em outubro daquele ano, o pai acidenta-se, decidindo tratar-se na França. Para esta viagem de tratamento, leva seu filho Alberto, que se estabelece em definitivo em Paris, onde vai pesquisar e desenvolver suas pesquisas sobre aviação, dando vazão aos sonhos do homem voar, fixação que o perseguia desde criança. Sentindo o talento e a vocação inata do filho, dizia-lhe seu pai: “Alberto, não quero ver-te doutor. Siga teus sonhos…”
Sonhos que em verdade se realizaram. Na sucessão de inúmeros projetos, no aperfeiçoamento da tal máquina, finalmente o 14 Bis alçou aos ares de Paris, às 15 horas e 47 minutos do dia 23 de outubro de 1906, contornando a Torre Eiffell e realizando, enfim, o maior de todos os sonhos humanos.
24 – TRÊS CAPELAS DO MORRO E MAIS UMA
Três capelas fazem vigília à cidade: São Sebastião, Santana e São João, onde, nesta, o Padre João de Faria Fialho celebrou a primeira missa nesses solos, no dia de São João, 24 de junho de 1698, junto ao bandeirante descobridor, Antônio Dias. Todas essas capelas são de tocante simplicidade, similares a tantas outras espalhadas pelos povoados mineiros. Pouco abaixo, a da Piedade completa o circuito das capelas do alto da Serra de Ouro Preto.
Imbatíveis em sua ingenuidade, louve-se em Minas as pequenas capelinhas anônimas, de ternura quase devocional, feitas por carpinteiros ou mestre-de-obras desconhecidos, em geral sem ajuda de arquitetos.
O “Morro da Queimada” — onde se localizam as Capelas de Santana, São João e Piedade —, chamava-se outrora Arraial do Ouro Podre ou Morro do Paschoal (Paschoal da Silva Guimarães), um dos homens mais ricos da época e proprietário da quase totalidade deste morro, estendendo-se suas propriedades até a região da Cachoeira das Andorinhas, onde encontra-se o Hotel / Fazenda das Andorinhas, do Maurício Meirelles e a Fazenda do Campo Grande, da querida família lima.
Na atualidade, segundo o arquiteto Benedito Tadeu de Oliveira, “o Morro da Queimada constitui sítio arqueológico de grande importância, com grandes galerias, bocas de antigas minas e mundéus, construções feitas para lavagem do ouro”.
Alphonsus de Guimaraens contempla seu olhar sobre as capelinhas perdidas:
“É como a igreja de uma aldeia,
tão sossegada e tão singela…
as moças, quando a lua é cheia,
sentam-se à porta da capela. “
25 – OS DISTRITOS
Os distritos perfazem o extenso emolduramento das terras e caminhos à volta de Ouro Preto, e têm implícita importância: por serem resguardados ainda na pureza original do que eram, por manterem as tradições e pelo bucólico encantamento rural que nos despertam, um algo perdido nas cidades.
Se quisermos o passado, são eles, os distritos. E o são tantos, distintos específicos: o outrora quilombo de Lavras Novas (da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, cujo povo devoto a tudo louva, dizendo: “na graça de Deus e de Nossa Senhora dos Prazeres…”), hoje com deliciosas pousadas e restaurantes; São Bartolomeu da igreja do sino de madeira; Amarantina das Cavalhadas; Santo Antônio do Leite dos artesanatos; Santa Rita dos artesãos em pedra-sabão; Glaura da grande igreja de Santo Antônio; Cachoeira do Campo da bela Igreja de Nossa Senhora de Nazaré: Soares dos nossos irmãos de afeto, Mauro e Cláudia, oásis de encontro de inumeráveis amigos.
Estar nos distritos é ter o tempo, tê-lo todo, poeticamente intacto, sem transgressões e sem pressa. As pessoas, as matas, os córregos, os cultos invulneráveis de festas comoventes, procissões de onírico sentimento humano, que não mais se encontra, é tudo magra, imã de contemplação a se fazer silêncio.
Lentamente, na nobreza da inocência vem o cortejo solene, entronizado pelo Velho Rei Congo e a Velha Rainha, com suas dignidades de rugas expostas, acompanhados de cavaleiros mouros e cristãos, as virgens e figuras bíblicas, contornados pelos anjos das meninas do lugar. Toda comunidade participa na convulsiva libação entre o profano e o divino, cantando, louvando:
“Ó Deus salve o oratório,
onde Deus fez a morada.
De Jessé nasceu a vara,
da vara nasceu a flor
e da flor nasceu Maria,
de Maria, o Salvador…”
26 – TURISMO ECOLÓGICO
Ampliando o aspecto cultural, a cidade delineia-se em riquíssimo acervo ecológico, assentando-se na reserva natural do Parque Estadual do Itacolomi e da Estação Ecológica do Tripuí, ambas na Bacia do Rio Doce. Na Cachoeira das Andorinhas nasce o Rio das Velhas, que desce até Sabará, desaguando, após muito caminhar, no Rio São Francisco. Como afluente do Rio Doce, nascem mais dois rios na região: o Piracicaba (no distrito de Antônio Pereira) e o Funil (em Ouro Preto).
O turismo ecológico, baseado em trilhas que passam por cachoeiras, remansos e florestas, tem tido forte interesse, buscando-se a saúde do corpo e as forças elementais da natureza, cujo contingente de adeptos vem aumentando a cada dia, para longas caminhadas. achoeira das Andorinhas nasce o Rio das Velhas, indo a Sabar
Subir o Itacolomi, de onde se avistam as imensidões dos vales, é uma tentação. Fascinados por aquela pedra singular, apesar de poucos dias em Vila Rica, Spix e Martius não resistiram, lá subindo e contemplando tão belo cenário.
Ouro Preto não é cidade das flores, mas da rudeza de plantas silvestres brotadas nos celeiros minerais, e que necessitam ser descobertas por figuras sensíveis, como aquele jovem gênio chamado Johann Moritz Rugendas, considerado o mais célebre de todos os desenhistas/naturalistas, aqui chegando em agosto de 1824, junto a toda expedição científica comandada pelo Barão Langsdorff.
Há que se ver nos montes, as grimpas grupiaras recorrentes, hoje desvalidas e funestas, que os olhares de Rugendas viu ainda ativas, nelas se inspirando para tão belos desenhos e aquarelas.
Num ângulo de maior visão, Ouro Preto não se circunscreve apenas no santuário das artes, porém, muito mais: no museu colossal da obra geológica da própria natureza.
Ao nos determos na visualidade dessas paragens, verificamos estar no confronto de duas eras geológicas distintas: a plácida (da região de Belo Horizonte, horizontalizada em pacíficas camadas planas); e esta outra — rebelde na topografia de pedregulhos delirantes, vórtices verticalizados, convulsionados e sustentados pela erupção uterina da terra, entre Belo Horizonte e Ouro Preto — simbolizando a Minas opositora e insurreta,revoltosa e conspiratória de sempre.
27 – CULINÁRIA MINEIRA[10]
É meu mano Décio a dizer-me:
Minas dos ouros de Gonzaga e Cláudio;
Minas dos diamantes do Tijuco, contratadores e serenatas;
Minas dos ferros e das almas de Drummond;
Minas das Gerais, dos morros pelados de Pedro Nava,
dos sertões de Guimarães Rosa, dos Araxás de Dona Beja
e de Pitangui, reino de Sinhá Braba do Pompéu.
Minas do século XVIII do ouro, da fome,
onde mais valia um ovo que ouro.
Minas do século XIX das Gerais, do campo,
agrária da Zona da Mata com seus cafezais,
do Sul e Triângulo com seus gados.
Essas mudanças dos ciclos econômicos refletem-se diretamente na alimentação.
Antes, era o fogão à lenha, a panela de pedra nas casas, o fogo ardendo de manhã à noite, onde cozinheiras tratavam a culinária como um artista a arte. Elas dedicavam-se (e dedicam-se) ainda ao ofício da cozinha, de igual modo um padre professa a fé.
Evidente, o cumprimento dos dons não se equivale apenas aos grandes feitos, também aos mínimos. A total entrega de uma cozinheira compreende-se na anônima virtude, no oferecimento da paciência, diariamente temperando, cortando a couve, descascando alho e cebola, horas-a-fio mexendo panelas para encontrar o ponto certo, buscando na intuição o paladar exato, a contentar os da casa e os visitantes.
Entre fumaças e cheiros, a cozinheira estabelece sua função, quer nos doces e salgados, devendo-se a estas maravilhosas mulheres, o mito da comida mineira.
Dando água na boca, descrição melhor não haverá. É Pedro Nava em seu “Bau de Ossos” falo-nos das sobremesas: “(…) E que doces… Os de coco de todas as variedades, como a cocada preta e a cocada branca, a cocada ralada ou em fita, a açucarada no tacho, a seca ao sol. Baba-de-moça, quindim, pudim de coco. Compota de goiaba branca ou vermelha, como orelhas em calda. De pêssego maduro ou verde, cujo caroço era como espadarte no céu-da-boca. De abacaxi, cor de ouro, de figo cor de musgo, de banana, cor de granada, de laranja, de cidra, de jaca, de ameixa, de marmelo, de manga, de cajá-mirim, jenipapo, turanja. De carambola, derramando estrelas nos pratos. De mamão maduro, de mamão verde – cortado em tiras ou passado na raspa. Tudo isto podia apresentar-se cristalizado – seco por fora, macio por dentro e tendo um núcleo de açúcar quase líquido. Mais. Abóbora, batata roxa, batata doce em pasta vidrada ou pasta seca. Calda grossa de jamelão, amora, framboesa, araçá, abricó, pequiá, jaboticaba, canjica de milho-verde tremendo como seio de moça e geléia do mocotó, rebolando como bunda de negra (…)”.
28 – PASSEIO PITORESCO A MARIANA PELO TREM DA VALE
Imperdível passeio. Tão importante quanto visitar palácios e igrejas, é debruçar-se nos montes contíguos a Ouro Preto e Mariana, num percurso a levar-nos à contemplação, atravessando-se a dimensão telúrica dos espaços minerais. Por baixo destes verdes visíveis, tudo é minério, enigma, ouro ainda, também ferro, rochas imensas incalculáveis.
Antes do embarque, chega-se à Estação de Ouro Preto, cuja posição demarca a distância milimétrica do Rio de Janeiro até este ponto preciso, como consta na placa afixada na parede, registrando-se a posição insuspeita em quilômetros: 656.942. Tudo transforma-se em poesia, mesmo os números, situando-se a estação na altitude de 1.060 m 885, donde se há de descer até Mariana.
Na contemplativa viagem sobre trilhos, parte o trem deixando Ouro Preto para trás. Vai lento, correndo o vagar necessário a dar-nos sensação de euforia e nostalgia, o vento batendo suave em nossas faces inundadas de lirismo, ao som do apito da máquina passando por pontes, túneis e desfiladeiros, a caminho da capital mística de Minas, Mariana. Lá encontraremos a Matriz Primaz: a Sé de Nossa Senhora da Assunção, construída em taipa e bosta-de-boi, a sustentar um dos mais raros órgãos de que se tem notícia, um autêntico Arp Schnitger — doação de D. João V à cidade que homenageia sua esposa, D. Maria Anna de Habsburgo, Imperatriz da Áustria —, cujos foles e teclas são tonificados pelas mágicas mãos de Elisa Freixo, trazendo-nos as cantatas de Bach nos concertos dominicais ao meio dia, justamente no órgão da marca predileta do próprio compositor. Este órgão está para seu autor, como um violino para stradivarius Coisas de primeiro mundo.
A afinação corresponde à região de Hamburgo, diferenciada da “afinação temperada” da Itália e do sul da Alemanha. Anexa, na parte posterior da Sé, encontra-se a Casa do Capítulo, com portadas em cantaria, hoje Museu Arquidiocesano, situada em frente à casa onde morou e morreu o nosso Alphonsus.
Dentro da Sé repousa os restos do grande homem chamado Dom Luciano Mendes de Almeida, falecido em 2006 e conhecido como “o Senhor dos Humildes”. Por sua irredutível integridade, fé inabalável, sua ação e senso de igualdade na luta pelos direitos dos necessitados, desde quando atuava com Dom Paulo de Evaristo Arns em São Paulo, creio termos conhecido, em pessoa, um santo.
Exulta-se em Mariana o conjunto das Igrejas de São Francisco de Assis e do Carmo (logomarca do IPHAN). Defronte, a elegante Casa de Câmara e Cadeia, com seus dois pavimentos, torreão central e portada com lances duplos de escadas.
Perceba-se em Mariana a envolvente praça e o plano urbanístico da cidade, a primeira projetada em Minas, obra do inventivo Alpoim; veja-se, ainda, a elegância da capela do Seminário Menor, atualmente Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da UFOP, com seu centro cultural no primeiro pavimento, a Sala Affonso Ávila. Neste Seminário implantou-se a primeira sala de aula em Minas para homens. Só mais tarde surgiria o Colégio Caraça. De igual intensão, o Convento de Macaúbas foi feito para as moças-de-família consideradas perdidas.
A CONSTRUÇÃO DE UM TEMPLO
Como se constrói um templo? Tem-se o projeto. E o terreno. Do projeto, nascerá a obra. O arquiteto pensa, imagina, planeja, inventa. Tenta erguer, na mente, o que será, o tamanho, volume, proporções, a espessura das paredes, a fundura do alicerce. Na prancheta tudo se descerra: os vãos, os espaços, as grandezas. Essas paredes me parecem grossas demais, ele se pergunta. E os detalhes, como serão? Preciosos? Ou simples, sem quase nada, no despojamento virtual de pouco exibir. E as esculturas, e as pinturas? Serão fortes, incisivas na compostura, ou primárias na pureza, na quase não-intervenção, de tão breves? E os altares, e a nave? Os tetos, suspensos, vão ter vinte metros do chão? Quem os fará, que mãos, que cores?
São perguntas, muitas sem respostas, no emudecimento silencioso do arquiteto consigo mesmo, refletindo. Pensar num templo, é conceber uma ode, vagando da abstração à matéria. Há que ser, de princípio, muito grande, criador, criativo. E capaz, certeiro no ser, no prever e calcular, no arrojar-se na concepção do trajeto impossível, avançar sobre trilhos nem sempre visíveis – e acreditar. Sempre acreditar: na hipótese, intuição, pressentimento do impulso que chega e demarca, no delírio gestativo da criação, da energia quase celeste a varrer-lhe a mover-lhe o arquiteto.
Este, o ser a ser dotado. A quem se deve o gesto, a unção, advento da celebração de toda crença, o homem que faz nascer e para quem se incide o olho, o olhar, aquele que detém o episódio frontal, a circunstância, inspiração e diz, num certo momento: construa-se. Eis-me aqui, minhas palavras, meu ato e testemunho, a substância que de mim sai: eu confio, nelas confio: nessas formas, nessas proporções e ousadias, nessa fachada que será, não mais, não menos, e a quero assim: exatamente.
E transfere os projetos ao construtor — o homem que se seguirá. Sai o arquiteto, entra um outro. Não mais o arquiteto do pensamento, mas o do fazer: o que sabe as ligas, as arestas centrais, as espessuras e tamanhos, o que alça alicerces, e neles crê. Crê nas certezas, jamais nas dúvidas. Quando vê o projeto da grande nave, o construtor sabe como será, de que maneira fará, suspensa, insigne na segurança dos telhados. Vão se romper as paredes quando toneladas elevadas se lançarem diretas sobre elas? Ele sabe e saberá.
É tudo magia, é tudo ciência, saber, suor, sangue, perfeição. O dia-a-dia, cada dia um dia, as pedras, os tijolos, areia, cal, argamassas, barrotes, as fechaduras, tudo feito à mão: o serrar, o soldar, aparafusar, levantar, transportar. Cada ferramenta presta para uma só coisa e cada oficial sabe seu oficio, da ação, da hora, a martelada certa, precisa de um certo cravo introduzindo na madeira. Aquele grave cravo, tão desafiador de tão imenso, tem que entrar justo na precisão, sem indecisão e sem falha. Errar, jamais! O oficial é o senhor da plena sentença, o que vai à luta dos dias, na incessante sofreguidão de seus labores: os pedreiros, carpinteiros, pintores, escultores, douradores, serralheiros, obreiros gerais, serventes, ajudantes no empenho conjugado, cada qual fazendo sua parte, arte, artífices consagrados do mesmo brado coletivo.
O terreno até então imaculado, vai deixando de sê-lo, ferido na gestação de um algo que se avulta, brota e se irrompe como um filho vindo à luz, provindo do corpo virgem da terra. Pouco-a-pouco vai crescendo, ostentando a galhardia de sempre subir, as paredes, as torres, os sinos, campanários vazando brumas, tocando nuvens ao encalço do céu. São anos, muitos anos, séculos. Durante a obra muitos se vão, muitos não a verão, como tocha de mão-em-mão, na infindável junção das idéias e dos desenhos daquele que a concebeu, o arquiteto, tornando-se realidade, postura, dadiva construção — um templo. Há um templo, cada um embrenhando seu tempo, cada homem, os maiores, os menores contemplam, por fim, o templo.
Ei-lo, erguido E apresenta-se. É de todos. Passa a ser, a significar-se, a validar-se, ungir-se com os elementos, os altares, santos, cruzes, os místicos sinais que lhe adentram, que lhe afeiçoam, alçando-se, comprometendo-se do seu destino, vestindo-se das imantações necessárias, corporificando-se nos segredos de cada peça: os cálices, castiçais, hóstias, ostensórios, harmônicas envolvências santificadas, para tornar-se fé — a casa da fé —, dos umbrais imantados, possessão dos colóquios indevassados onde o Supremo estará. O templo consagra-se. Do projeto do arquiteto à obra acabada, o templo transmuta-se, como súplica e glória, voz conclamando o Divino a que desça, se estabeleça e faça alumbrar mentes e gentes —, e nele encontrem regozijo, luz, força para suportar, o sagrado para abrandar. E os dois arquitetos se olham, entreolham — o incognoscível de cima, e o de baixo — ambos abençoando-se, mutuamente. Deus e homem, abraçando-se. Misteriosamente.
Este texto é desses que me constituíram: meus pais; meus irmãos Décio, Celina, Paulinho e Nívea; Fani e minhas filhas Blima e Larissa; Olívio Tavares de Araújo, Ivan Marquetti, Lilli Correia, Carlos Scliar, Vinícius de Moraes, Adolpho Bloch, Moacyr Laterza, João Adolfo Hansen, Mauro Werkema, Ângelo Oswaldo, Valério Fabris, José Alberto Fonseca e Sérgio Pereira Silva.
Carlos Bracher
Verão de 2006.
Ouro Preto: olhar poético
texto e aquarelas de
Carlos Bracher
[3] Havia um decreto da Coroa, de 1750, em que a Capitania de Minas deveria pagar a cota de 1,5 toneladas de ouro ao ano, que não estava sendo paga. Esta cobrança, chamada “derrama”, seria repassada para a população, em fevereiro de 1789.
[4] Eis parte da sentença: “Pelo abominável intento de conduzir os povos da Capitania de Minas a uma rebelião (…) seja conduzido pelas ruas públicas do lugar da forca e nela morra a morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica (…)”.
[5] Ivan Marquetti (1941/2004) iniciou-se na pintura exatamente em Ouro Preto, em 1962, vindo com Carlos Scliar e instalando-se na República Formigueiro. Sérgio Pereira Silva, amigo de Ivan, fez levantamento de sua obra em todo país, para edição do livro “Senhor dos Cores” tendo texto de Celma Alvim e fotos de Cristiano Quintino.
[6] Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança
[7] Alpoim sempre trabalhou com Gomes Freire de Andrade, fazendo o projeto da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica (que não foi construído segundo seu projeto) e o traçado da cidade de Mariana. No Rio de Janeiro, projetou o Paço Imperial (morada dos Vice-Reis, inaugurado em 1743); o Convento de Santa Teresa; o Arco do Telles; a restauração do Largo do Carmo e a reforma dos Arcos da Lapa (1750).
[8] Alpoim havia feito um projeto para o local. Porém, o Governador Luiz da Cunha Menezes preferiu executar outro, feito por ele próprio, baseado no Capitóliode Roma, de Michelangelo.
Texto de Carlos Bracher
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.